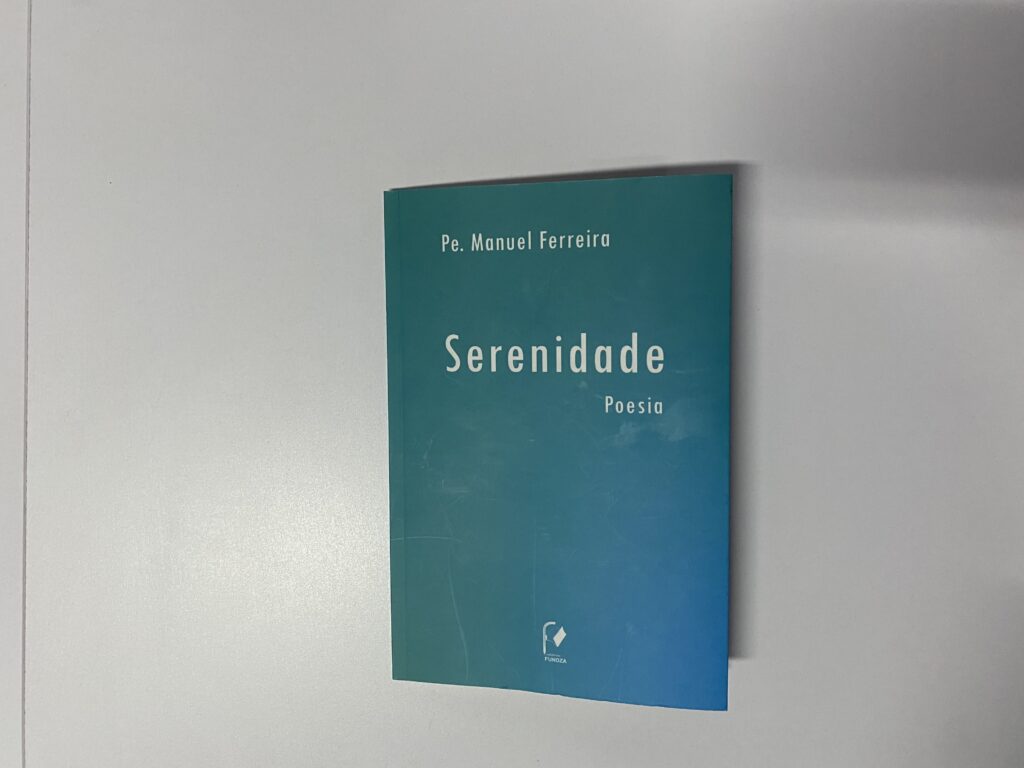É comum que um autor fique perturbado com a leitura que se faz do seu livro. Não seria difícil citar 10 exemplos em que tal aconteceu. Vezes há em que tudo termina entre os botões do autor e sabe-se da sua perturbação pelos corredores, cafés e bares. Noutras vezes (não poucas) os escritores usam redes sociais ou colunas de jornais para manifestar o seu desencanto com a leitura de um certo crítico (ou aspirante ao ofício). Vemos, em alguns livros, uma tendência subtil do escritor deixar pistas que norteiem o exercício de leitura que, a priori, é alheio a si e é matéria de outros poderes. Neste caso, o do leitor. As epígrafes, os preâmbulos, as notas de autor e outras “manobras” paratextuais são recurso preferencial dos autores para enviarem recados ao leitor antes, durante e após a leitura da obra. Haverá, certamente, quem se interesse em aprofundar esta matéria.
Vem isto a propósito de uma nota que Wole Soyinka deixa em “a morte e o cavaleiro real”, uma peça originalmente publicada com o título “Death and the King’s Horseman”, traduzida para português por Sandra Tamele e publicada pela Ethale Publishing, em Moçambique.
Tive a infelicidade de ler a nota do autor antes que lesse a peça. Embora seja fascinado pelos fenómenos que emergem num contexto de contacto entre culturas, tenho reservado alguma sobriedade para ler o que o texto oferece e, aliando ao que já carrego no meu saber enciclopédico, faço uma leitura interactiva alicerçada nos preceitos de Mikhail Bakhtin. Neste caso, foi-me difícil ler o texto sem o assombro de Soyinka ao ouvido dizendo como a sua peça devia ser lida ou, quiçá, encenada.
A dado momento da sua nota, Soyinka diz o seguinte:
O mal dos temas deste género é que assim que são empregues criativamente adquirem logo o fácil rótulo de “choque de culturas”, um rótulo prejudicial que, longe da sua má aplicação, pressupõe uma potencial igualdade em todas situações da cultura estrangeira e da cultura indígena, em solo da última. (Na área da má aplicação, o prémio de literacia e condicionamento mental no ultramar cabe indubitavelmente ao autor da sinopse da edição americana do meu romance Season of Anomy, que afirma descaradamente que esta obra ilustra o “choque entre valores antigos e novas maneiras, entre métodos ocidentais e tradições africanas”!) É graças a este tipo de mentalidade perversa que penso ser necessário acautelar o potencial produtor desta peça contra uma triste tendência reducionista similar e, em vez disso, guiar a sua visão para a tarefa muito mais difícil e arriscada de elucidar a essência lamentosa da peça.
Trata-se de uma peça que aborda eventos ocorridos em Oyo, antiga cidade yoruba, na Nigéria, em 1946. O Cavaleiro Real, Olori Elesin, é o centro da trama. Segundo um secular costume tradicional yoruba, após a morte do rei, o seu cavaleiro devia suicidar-se para acompanhá-lo ao céu.
Elesin, gozando de simpatia pelos habitantes da comunidade yoruba, revigora-se para viver o seu último dia em absoluta felicidade. Alegra-se. Faz grassa com os seus. Faz o que mais lhe dá gozo. E, não menos importante, escolhe uma mulher com quem ter o último coito antes da partida e, segundo os costumes, é a esta que caberá a tarefa de lhe tapar os olhos depois de morto. Sucede, entretanto, que a mulher por si eleita já havia sido prometida para um jovem da aldeia. Embora tivessem surgido protestos para negar esse desejo, tal não podia prosseguir porque “ninguém iria remediar o flagelo da mão fechada no dia em que todas deviam estar abertas à luz”. Pela importância dada ao ritual, a comunidade yoruba esteve toda informada sobre o que iria suceder naquela noite e, entre cânticos e batuques, registava-se o momento. Tanto pelas informações que corriam quanto pelo som de cânticos e batuques, Simon Pilkings, o administrador colonial, toma conhecimento do que iria suceder e ordena a prisão de Elesin por considerar a prática do suicídio nociva, ilegal e, acima de tudo, entendia que o costume em volta dele era atrasado.
Para os yoruba, a interrupção do ritual e o impedimento do suicídio de Elesin significava a condenação de toda uma comunidade e das gerações posteriores a um caos sem precedentes por se ter inviabilizado uma ordem cósmica secular.
Este episódio ocorre na mesma altura em que Olunde, filho primogénito de Elesin regressa de Inglaterra, para onde fora cursar Medicina à mercê de uma bolsa de estudos facultada por Simon Pilkings como forma de incentivar o jovem que tinha bom desempenho na escola e merecia uma sorte melhor que “seguir tradições atrasadas e desumanas.” Ciente do que se estava a tratar, Olunde assume a responsabilidade do pai e suicida-se em seu lugar. Elesin, por seu turno, suicida-se, também, na prisão, mas tal não chega a ser suficiente para inverter a má sorte que se iria instalar a partir do momento em que o ritual foi interrompido e se invertido a ordem natural dos acontecimentos, segundo a visão do mundo yoruba.
Retomando a divisão aristotélica dos modos literários, indubitavelmente, “a morte e o cavalheiro real” é um texto circunscrito no modo dramático. De forma específica, trata-se de uma tragédia pelo tipo de temática que aborda, das acções em conflito e da mudança paradigmática da vida de Elesin da situação inicial à final. Do ponto de vista externo, a peça apresenta cinco actos e vinte e uma cenas. Internamente, diria que a exposição corresponde ao primeiro e segundo actos, o conflito ocorre nos terceiro e quarto actos, e o desenlace desencadeia-se no último acto. A peça gira em torno de Bardo, Elesin, Iyaloya, Simon Pilkings, Jane Pilkings, Amusa, Joseph, Noiva, Guarda, Sua Majestade Real o Príncipe, O Residente, Ajudante de Campo, Olunde, Batucadores, Mulheres, Meninas e Dançarinos do Baile.
Do ponto de vista de relevo, dentre estes personagens, Elesin (protagonista) e Simon Pilkings (antagonista) são principais; Olunde, Iyaloya, Bardo, Jane Pilkings, Amusa, Mulheres e Meninas são secundárias; Joseph, Noiva, Guarda, Sua Majestade Real o Príncipe, O Residente, Ajudande de Campo, Batucadores e Dançarinos do Baile são figurantes. Conforme referi, as acções de “a morte e o cavaleiro real” ocorrem num mesmo universo espacial e temporal: Oyo de 1946. Ora, conforme refere o autor na já aludida nota, “por meras razões de dramaturgia, a acção foi recuada dois ou três anos, para quando havia guerra.”
Em “a morte e o cavaleiro real” podem emergir várias leituras. Mas algumas não vingam, não só por ter sido objecto da refuta que Soyinka adianta na nota desta edição, como porque não encontra fundamento consistente no desenrolar da peça. De facto, ler a peça na perspectiva de contacto entre culturas só teria azo se o diálogo entre Olunde (filho de Elesin) e Jane Pilkings (esposa de Simon Pilkings) no quarto acto se tivesse prolongado e tomado as rédeas de todo enredo a partir do momento em que inicia. Mas, não! A pouca primazia que o autor deu a esta interação sustenta a coerência do que ele diz em relação àquilo que ocorre do ponto de vista material. A ter de fazer uma interpretação global da peça através de ocorrências bastante episódicas, haveria espaço, inclusive, para traçar um itinerário interpretativo que nos faria chegar a conclusão de que independentemente da formação académica a que Olunde fora submetido, o seu substracto cultural falou mais alto a ponto de se suicidar para salvaguardar um costume tradicional e manter a plenitude da sua comunidade por gerações. Portanto, a meu ver, as interpelações dialécticas que surgem nas entrelinhas da conversa entre Olunde e Jane Pilkings vêm a título de reboque de um impacto discursivo ainda maior.
Vejamos, se lermos o fenómeno Elesin numa perspectiva das narrativas orais (embora neste caso de trate de uma peça) podemos encontrar sustento na análise da sua situação inicial até a final. Dir-se-ia tratar-se de um herói (não se confunda com a noção de heroicidade; entenda-se o conceito na perspectiva de análise textual que é equivalente a protagonista) que teve uma situação inicial feliz, foi perpetrando transgressões no decorrer do enredo e culmina com uma situação final trágica: um castigo. Assim, do ponto de vista temático-antropológico, “a morte e cavaleiro real” seria um texto que apresenta “pessoas e/ou animais através do comportamento dos quais se pretende abordar questões ligadas aos costumes da comunidade, hábitos morais ou culturais, premiando os cumpridores e castigando os transgressores.
Objectivamente, diríamos que, em parte, o facto de ter usado o seu último dia para a satisfação de desejos até certo ponto mesquinhos pode o colocar na posição de transgressor dos costumes do povo Yoruba como, por exemplo, a tomada de uma jovem como sua mulher quando esta já havia sido prometida para um outro jovem da comunidade. Este e outros aspectos podem sustentar o seu infortúnio (castigo). Haja vista, contudo, que neste caso o castigo não é só para si, mas para toda comunidade.
Por outro lado, pode-se perceber que o jogo discursivo no plano extratextual independe da forma como a peça termina. Eis, quiçá, a razão de Soyinka não dar o desfecho sobre a previsão do infortúnio do povo Yoruba dentro da peça. O que pode sustentar que independentemente do que fosse acontecer naquele universo, cá (no plano extratextual) inscreve-se o essencial: compreender a cosmovisão do povo Yoruba relativamente à morte _ por um lado como continuidade da vida terrena numa categoria superior e com alcance aos destinos dos vivos; por outro, como um imperativo altruísta do ponto de vista existencial porque o suicídio do cavaleiro real era visto como uma atitude nobre em benefício da comunidade e das gerações posteriores àquela que conviveu tanto com o rei quanto com o cavaleiro real.
Ler a morte (e mais especificamente, o suicídio) neste viés yoruba abre os horizontes para perceber como um fenómeno intrínseco à condição humana pode ter tão variadas concepções em diversos povos. Se para uns a morte não é o fim, é parte do processo evolutivo da alma para chegar à pureza (nirvana); para outros é o fim de uma missão para encontrar o pai celestial e em função das acções terrenas abrir-se-ão novas possibilidades de existência noutro plano; há os que entendem que se trata de uma viagem para outro plano com a possibilidade de nortear o rumo dos que vivem e interceder por eles perante o supremo; etc. Para os Yoruba, este dilema existencial é tido de outra forma e na sua organização sócio-cultural não se espera que tal imperativo altruísta e existencial ocorra por causas naturais, mas voluntariamente através do suicídio que, neste caso, esteve entre “a morte e o cavaleiro real”.