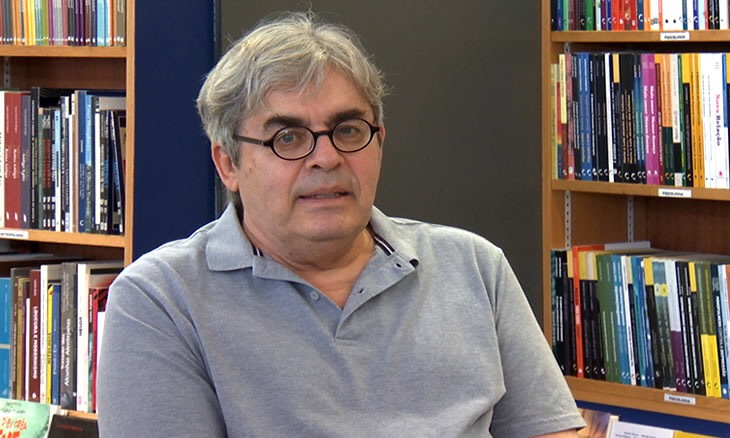Na Livraria Escolar Editora (Cidade de Maputo) havia o habitual movimento. Por um lado, leitores ávidos em comprar livros, e, por outro, livreiros a explicarem onde se podiam encontrar determinados títulos. Enquanto se criavam as condições para entrevista, João Paulo Borges Coelho também apreciava livros como quem tentava adivinhar os que deverá ler antes do ano terminar. Alguns leitores reconheceram o autor de O olho de Hertzog, Água ou Cidade dos espelhos, e lá o observaram de soslaio, como se procurassem alguma confirmação plausível. Outros passaram pelo escritor sem dar por ele. Escusa-se dizer que, cumprindo as normas da livraria, o escritor usava uma máscara. Azul celeste. João Paulo Borges Coelho parecia ter todo o tempo do mundo no instante que apreciava os livros. Entretanto, repentinamente, foi afastado dessa actividade agradável. – Já estamos prontos. Disse o jornalista. O escritor anuiu e deu alguns passos até ao local onde se encontrava um assento confortável reservado para si. Ali falaria das suas motivações ao escrever Museu da revolução (seu novo romance), do que pensa do exercício da ficção, do que significa a literatura, de como pensa o seu país (o espaço urbano e suburbano), da dor que é ver o seu país e o seu continente se transformarem na lixeira do mundo. Afinal, Museu da revolução “pretende denunciar este caso de que o mundo está a limpar-se à custa de África”.
Começo esta conversa com um reparo. O seu novo livro, Museu da revolução, é uma história muito focada na “reinvenção” de vários aspectos estético-literários. Uma das personagens que tanto contribui para que o romance vá além do óbvio é Jei-Jei, o centro e a ligação entre o narrador e outras personagens. O que lhe ocorreu ao construir romance a partir dessa personagem?
Há uma ideia de que o romance não é o acto de contar uma história, de escrever uma história, mas é o acto de ir descobrindo como o próprio romance se constrói. Então eu olho para o romance como uma caixa de onde vamos tirando coisas que nos interessam, vendo como essas coisas encaixam umas nas outras. E essas coisas têm a ver com temas que queremos explorar, com aspectos da nossa vida e etc. Nesse sentido, o romance é uma descoberta para o leitor, mas antes foi uma descoberta para o autor, que tem uns dias mais difíceis e outros dias mais fáceis. Por exemplo, este romance, eu não diria que tem um tema, mas vários temas que se cruzam e que se encaixam. E todos os temas têm a ver com a nossa vida recente. Para chegar à sua pergunta, sobre a construção de Jei-Jei, que é, talvez, a personagem central, ele foi sendo construído quase no mesmo instante que eu o vejo pela primeira vez, quer dizer, que o narrador o vê pela primeira vez. O narrador não o conhece, vai o conhecendo. Ele vai-se materializando aos olhos dos leitores tal como vai-se materializando na história com o narrador.
Jei-Jei é um pretexto para levar os leitores a uma viagem pelos espaços e pelo tempo. É essa personagem que contribui para configuração de lugares como Moçambique, África do Sul ou Alemanha, devolvendo aí o passado dos madgermanes.
Tenho duas maneiras de responder a essa questão. A primeira é que há aqui um aspecto ético, que é do narrador não roubar a voz das personagens, mas estabelecer uma ligação. Tudo isto faz parte do jogo da verossimilhança, que é o segredo, no fundo, da literatura. Nós fingimos que estamos a dizer a verdade e, por sua vez, o leitor fiz que está a acreditar. Nesse sentido, há aqui uma exploração das próprias técnicas, se quiser, do sentido da literatura, que é jogar com o personagem como se fosse real ou uma fabricação. Muitas vezes, aquilo que o Jei-Jei e o próprio narrador não conhecem como verdade do livro, eles criam como a sua própria verdade nas suas conversas. No fundo, isto é uma exploração e é um jogar com o próprio jogo da literatura. E há este facto curioso de o Museu da Revolução estar no outro lado da rua do Jardim [dos Madgermanes]. Há aqui até uma correspondência topográfica, se quiser. Mas também havia a preocupação de não transformar o Jei-Jei num arquétipo, pois não há uma figura que representa um moçambicano. O moçambicano é diverso. Esta ideia, que é uma ideia preocupantemente errada do homem novo ou igual em toda parte e em qualquer circunstância, não existe. Existem homens e mulheres diversas. Nesse sentido, eu tinha um pouco a ideia de ir criando Jei-Jei também como um fruto de acasos, de opções e de condições que o destino lhe trouxe. Ele também foi aproveitado, enquanto personagem, para abordar temas que me interessavam abordar no romance, nomeadamente, esse trabalho migratório que tem mais do que uma dimensão. Não é só uma curiosa continuidade cultural em relação ao trabalho migratório na África do Sul, mas é também a vontade de trazer para o romance esta ideia de que o moçambicano é cosmopolita. O moçambicano não é uma vítima que está sentada no seu país à espera que os outros venham. O moçambicano conhece o mundo pelo menos desde os finais do séc. XIX, quando migrava massivamente para os países vizinhos e, depois, para a Europa, como se viu, e para o extremo Oriente. No tempo colonial, haviam contingentes das chamadas Tropas Landins em Macau e em Timor. Portanto, Jei-Jei serve para trazer estas questões mais recentes.
Portanto, Museu da revolução também é um pretexto para pensarmos como os moçambicanos se relacionam com o mundo e qual é o seu lugar no mundo?
Sim, e como é que se relacionam com eles próprios e com o seu passado, porque é um pouco bizarro que nós não tenhamos muita discussão sobre o nosso passado. Como se houvesse aqui uma parte que não valesse falar dela, porque é muito confusa. É exactamente por ser muito confusa que nós temos de falar mais dela. E os museus são espaços, digamos, habitados pelos resíduos do passado. Portanto, acho curioso que o Museu [da Revolução] tenha encerrado e tenha sido privatizado, uma vez que a história da libertação pertence a todos os moçambicanos.
A ficção “resgatou” a infra-estrutura…
Há uma questão geral e particular nossa. A questão geral é o tempo em que nós vivemos hoje. Na minha perspectiva, um tempo em que o presente se alargou. O presente se alargou e apagou, em grande medida, quer a ideia de futuro, quer a ideia de passado. A ideia de futuro no sentido de que morreram as utopias. Hoje ninguém pensa como comunidade, colectividade, como nação, como humanidade ou no que queremos atingir daqui a muito tempo. Hoje até há esta simbologia do fim do mundo com as alterações climáticas, que, simbolicamente, representa o fim das utopias. Ao mesmo tempo, o passado também desapareceu um pouco. Quer dizer, todos os dias é uma ideia nova. Mesmo para a própria leitura, já não há tempo e paciência para ler mais do que duas páginas. Nós não conseguimos ler mais do que um tweet ou uma imagem que nos chega num smartphone. E amanhã já é uma outra imagem. Portanto, nós vivemos um grande presente ao nível do mundo e isto afecta-nos também. Por outro lado, temos este problema específico de um passado recente que ficou mal resolvido. Não ficou uma ideia clara daquilo que nos aconteceu. Neste sentido, há esta tendência de nos afastarmos, nunca falamos sobre isso… O Museu também representa isso, aquilo que era de todos, que passou a ser de alguns, privado, e que, por outro lado, está fechado, mas não se diz que está fechado.
Quando estava a ler Museu da revolução, ainda fui ao Museu da Revolução para ver o Volkswagen que Eduardo Mondlane conduziu em Dar es Salaam. A recepcionista disse-me que o prédio estava em restauração e que ainda não havia previsão de abrir…
A situação é indefinida. É tão indefinida como a nossa incapacidade de olhos nos olhos discutirmos os nossos problemas. Neste sentido, o livro procura ajudar nesse debate.
Eu senti, nesta história, que a ficção ajuda a dar mais sentido à realidade e não o contrário.
Pois, isso é importante ser dito. Quer dizer, o livro não é uma interpretação da realidade, é uma elaboração a partir da realidade. A meu ver, é esse o papel da literatura. O livro não substitui estudos e não se limita a passar mensagens que não são confortáveis fazer passar de outra maneira, não é isso. O livro é uma elaboração literária sobre os problemas que nos afectam a todos. Ajuda a pensar, mas não é um pensamento ou uma interpretação.
Quando a história começa, julguei que Toichiro Yamada (japonês que usa uma Toyota Hiace/ mini-bus para transportar peixe) seria o protagonista da história. Depois, percebi que a personagem, na verdade, foi usada para introduzir a viatura que, mais tarde, chega a Maputo via Durban. O que quis transmitir com a importação dessa viatura usada do Japão?
Digamos, quando escrevo, eu sigo um pouco o instinto. Olhando para trás, há, talvez, duas razões. Uma delas, desenvolver o tal cosmopolitismo. Aquelas epígrafes, digamos assim, que abrem os capítulos, tentam mostrar isso. Nós não somos uma ilha. Fazemos parte de um todo mais vasto. Portanto, somos, à nossa maneira, cosmopolitas. Por outro, o romance pretende denunciar este caso de que o mundo está a limpar-se à custa de África. Nós somos a lixeira do mundo. Nós vimos fotos aterradoras sobre a lixeira de computadores na Nigéria, por exemplo, que são produtos altamente tóxicos. Nós somos depósitos de material hospitalar radioactivo da Europa. Ainda há alguns anos houve um escândalo relacionado com a Somália e havia até ramificações com Moçambique. Se não tivesse rebentado esse escândalo, preparava-se, com a conivência de autoridades locais, virem cá ter lixos hospitalares europeus. Neste sentido, nós estamos resolvendo um problema de transporte, transformando-nos num depósito dos carros velhos de todo o mundo. Ou seja, estamos a assistir uma transição tecnológica em todo o mundo, em termos energéticos, e, ao mesmo tempo, temos as cidades africanas, em geral, inundadas dos lixos desses carros. Num certo sentido, há aqui também uma vontade de aprofundar um debate sobre o facto do nosso futuro, em termos económicos, com o gás e com o carvão, ser o passado do mundo. Não advogo que ponhamos de parte isso, porque é demasiado importante para a economia, mas me pergunto se não somos obrigados a ter um pouco mais de imaginação. Nós não trouxemos respostas de qualquer tipo para a agricultura, por exemplo, que é o que preocupa a esmagadura maioria dos moçambicanos. Só temos coleccionado fracassos. Olhamos para o futuro com aquilo que o mundo vai considerando passado. Isso precisa ser discutido na comunidade, e não só entre as autoridades, porque a vida é de nós todos. Há também aqui um terceiro argumento, que é o da importância das histórias. Portanto, aquela [história de Toichiro Yamada] é mais uma história. Como aquela história de Inglaterra, sobre a origem dos CD’s, com raiz verdadeira. De facto, aconteceu, de alguma maneira, e há personagens reais à volta disso. Portanto, é um pouco pensar na importância das histórias para nos fazerem pensar no mundo real.
Não sentiu falta desta personagem japonesa, Toichiro Yamada, ao abandona-la no seu país, seguindo a história com a Toyota Hiace em Moçambique? Quer dizer, não sentiu que podia recupera-la em algum momento?
Podia, mas, nesse caso, já não seria a ideia de uma história que é contada, mas a ideia do Yamada, de personagens reais, que eram transportados para aqui. No fundo, existe esta ambiguidade se esta história do Japão é, de facto, a origem do Hiace, do chapa, ou se é fruto criado pelo diálogo entre o narrador e Jei-Jei.
Mais uma vez, temos na sua escrita personagens que não se interessam pelo espaço urbano, mas pelo interior de Moçambique. O que lá encontra?
Nós somos um país eminentemente rural, que está a sofrer uma rápida e tumultuosa transição para o mundo urbano. Em finais dos anos 50, 97% da população, salvo o erro por aí, era rural em Moçambique. Num espaço destes menos de 100 anos, metade da nossa população já é urbana. O espaço urbano é um espaço conflituoso, de pobreza, violento e que se vê que não é criado com serenidade. O espaço urbano é um espaço de sobrevivência, enquanto no rural tínhamos a dimensão de que era um espaço em que as comunidades dominavam. Agora não é tanto assim. Eu sou muito crítico em relação ao que se faz no espaço rural, porque se faz sem consultar os donos desses espaços. São tirados de um lado para o outro conforme as conveniências de um Estado central. Por acaso estudei esses processos em Tete e vi que no espaço de uma vida um camponês podia ser tirado da sua terra umas seis vezes, desde o aldeamento colonial, aldeias comunais até ao carvão. Quer dizer, todos os motivos são para tirar as pessoas dos lugares. Então, não pode haver estabilidade, não pode haver crescimento com esta dinâmica. Este regresso ao espaço rural é uma forma de protesto, digamos assim, nós temos de pensar nas soluções para o espaço rural. Essas soluções vão poder ajudar poderosamente, espero, a trazer serenidade ao crescimento urbano, deixando de ser pressionado pelas pessoas que fogem de um espaço inviável, que está a arder.
Como é que descreve o encontro com a história que se concretiza a partir da narrativa da portuguesa Leonor Basto ou da sul-africana Elise Fouché, usada para instaurar o drama do Apartheid?
Isso surge naturalmente. Eu meto a mão dentro da caixa e vou tirando as coisas. Mas, no fundo, talvez houvesse essa ideia de que as guerras que nós sofremos não surgem arrumadas no nosso tempo. Elas têm uma existência real e muito dura dentro da consciência das pessoas. Neste momento, nós podemos ter um traumatizado da guerra colonial. Quer dizer, como é que nós vivemos a guerra colonial e a resolvemos? Depois, como vivemos o conflito civil e o resolvemos? Esses conflitos habitam-nos. Eu quis integrar na história conflitos com raízes diferentes, para que, de alguma forma, ajudassem a fazer o balanço do tempo, sem fazer explicitamente esse balanço. Se é certo que há alguma reflexão sobre a relação com a guerra colonial, estranho o tipo de distanciamento que, por exemplo, temos em relação a África do Sul e vice-versa. É certo que há uma intensa participação de moçambicanos na África do Sul, mas é como se fosse uma relação negativa. Os moçambicanos inscrevem-se na África do Sul de uma forma subalterna e são regularmente expulsos, estes fenómenos de xenofobia. Houve, nos anos 50, 60 do século passado ligações em termos musicais, mas, hoje, eu não vejo ligações em termos culturais. Nem vejo ligações de outro tipo. Vejo-nos como clientes da indústria sul-africana, da cerveja, da Dstv e da comida que comemos no espaço urbano, claro. Esperava-se que, com o fim do Apartheid, houvesse outro tipo de ligação. Falou-se até da abolição das fronteiras, que eu acho que são mais fortes. É também para pensar um pouco nisso. Por que não há intercâmbio? Porquê nós não lemos literatura sul-africana? Porquê a África do Sul não lê a nossa literatura? Quer dizer, há muito a conversar sobre isto. Mesmo entre nós, para chegarmos ao entendimento sobre esses processos. De uma certa maneira, o livro é um balanço dos últimos 50 anos, mas é, sobretudo, um convite para que nós falemos mais como sociedade. Nós falamos pouco e o que falamos está contido nos limites da política imediata, a maior parte das vezes. Nós temos que ter conversas mais amplas, mais profundas, mais existenciais. Eu acho que nós, ultimamente, manifestamos uma preocupante falta de imaginação. Temos que imaginar mais, de nos centrar no mundo, olhar para nós próprios como pátria, sobretudo, em vez de nos prendermos só na vivência do dia-a-dia. Temos de ambicionar mais, acho eu.
Encaixa-se na tentativa de balanço do tempo a inserção do Volkswagen de Mondlane?
Há até umas duas fotografias desse carro. Pois, esses objectos ajudam a trazer a dignidade. Eu gostaria de usar a imagem para reforçar um pouco essa ideia.
Além de Mondlane, neste romance, temos outras figuras históricas. Por exemplo, Ricardo Rangel. A ideia foi impedir um eventual esquecimento?
Há até umas referências várias de uns músicos moçambicanos desse tempo. Porque no fundo é até uma vênia à rebeldia do jazz nesses tempos em que eu vivi, do pós-independência, que eram tempos fortemente morais, em que o jazz sobrevivia nas cavernas da cidade, o que mostra também uma grande criatividade. E, de facto, o Rangel era o papa do jazz, era o entusiasta.
O romance a contribuir para melhor dar a conhecer Rangel?
Ou pelo menos é uma lembrança carinhosa desta figura, do interessante que foi e da importância que teve também na nossa história. Nós temos de cultivar toda a espécie de herói, não apenas uma espécie de herói.
Em quanto tempo escreveu Museu da revolução?
É difícil de dizer, mas é um romance do confinamento, digamos. Havia umas ideias, umas notas, mas ganhou ímpeto na segunda metade de 2019 e, depois, em 2020. Talvez um pouco mais de um ano e menos de dois anos.
O quão prazeroso foi escrever o livro?
Eu gosto de escrever. Levanto-me de manhã e, com afinco, dedico-me ao trabalho. Há dias que não são produtivos, obviamente, e há outros que são mais. Mas todos os dias há sempre uma ideia do que estou a fazer dentro da cabeça.