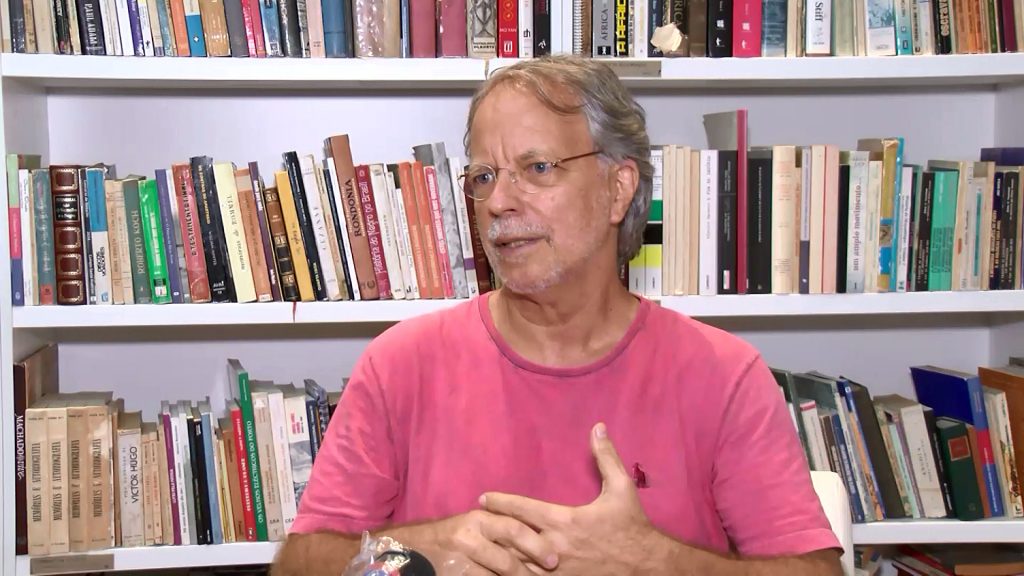No dia 28 deste mês, Mia Couto vai lançar o seu novo romance. Intitulado O mapeador de ausências, o livro será apresentado pela primeira vez na cidade natal do escritor, Beira, concretamente, às 16 horas, na Universidade Católica local. No dia seguinte, o autor terá uma sessão de conversa com José Eduardo Agualusa, no espaço Solange. A propósito do novo livro, Mia Couto concedeu-nos uma entrevista espontânea, descontraída, feita em 13 minutos, na qual nos revelou o seu maior prémio literário. Teve-o, claro, na cidade Beira.
Mia, o que é este O mapeador de ausências?
Este O mapeador de ausências é sobre alguém que está a tentar encontrar a sua infância, o seu passado, mas que se apercebe que esse passado é inventado como sempre todo passado é uma recriação nossa. Aquilo que ele pensa que são presenças concretas, afinal são ausências, e é sobre essas ausências que ele está trabalhando. Isto tudo parece um pouco abstracto, mas, na verdade, o que posso dizer é que é a história do meu pai, é a história da minha infância e uma celebração a cidade que me trouxe ao colo e que me contou histórias: a cidade da Beira. Por isso, o primeiro lançamento deste livro é minha cidade.
Este livro é feito de outras narrativas, além das que referiu. Quais são?
Eu sempre tenho para comigo como é que faço para resgatar esse passado plural, feito de vários passados. Um dos passados que tento trazer à visibilidade está escondido na história do massacre de Inhaminga, que, mesmo entre nós, moçambicanos, é pouco conhecido. Nós conhecemos muito do massacre de Mueda, de Wiriyamu, mas esse massacre ficou oculto. E o próprio lugar de Inhaminga ficou esquecido na história, como se fosse um lugar da margem. Além disso, também falo de alguns casos que marcaram uma sociedade colonial, racista, que hoje, tanto numa certa má memória europeia, tentam esquecer. Parece que esse passado foi harmonioso, como se se fizesse uma espécie de substituição na história. De vez em quando é preciso fazer esses golpes com a história, que cortam, que rompem com o que é injusto e é imoral. A cidade da Beira, em 1973, vivia uma situação mais ou menos delirante, quer dizer, uma guerra – como esta que estamos vivendo actualmente, infelizmente – que se acreditava estar longe, por acontecer em cabo Delgado, Niassa, em Tete. E, de repente, a guerra apareceu a bater à porta da cidade. Toda aquela minoria branca que vivia na cidade entrou em delírio, sem maneiras de resolver a proximidade dessa ameaça. Acontece que a Beira resolveu essa ameaça através de uma certa loucura. Este meu livro percorre essas pequenas histórias e delírios que iam acontecendo na cidade.
Quis fazer deste livro uma espécie de alusão à época colonial para nos mostrar como vai o mundo, hoje, e, a partir daí, intervir como o fazem os seguidores de movimentos como Black Lives Matter?
Sim, mas de uma maneira literária. A mim interessa abordar e combater isso, fazendo arte, fazendo literatura. Depois, como cidadão, posso fazer outras coisas e aderir a movimentos e inscrever-me em associações cívicas. Acho que a principal maneira, não existe só uma, de a literatura combater o racismo é mostrando que cada pessoa é uma pessoa inteira, que tem a sua individualidade e direito à sua interioridade total. Não porque é negro, branco ou indiano. Apesar de viver numa condição social e histórica, que determina que sendo de uma certa raça não pode ter um certo tipo de privilégios, apesar disso, essa pessoa tem direito a ter uma história própria e individual. A literatura vai buscar isso, que são as pessoas… esse é um instrumento de trabalho que o escritor tem.
Temos no livro um espaço e um tempo concreto?
Temos dois tempos. Há um poeta, vagamente sou eu, mas não sou eu, que vai visitar a sua cidade, vai receber um prémio na cidade. Quando acontece a visita, há ali um caos amoroso e ele fica preso à própria visita. De repente ele percebe que tem de resolver assuntos que são do seu próprio passado, que só podem ser resolvidos naquele lugar. Esse é o tempo presente… há um tempo imediatamente anterior ao ciclone Idai. Portanto, cada dia que vai passando ele vê nas notícias que o ciclone vai se aproximando, como se houvesse uma ameaça de que o ciclone vai varrer esse lugar da sua infância – e isso, de facto, eu vivi enquanto estava escrevendo o livro. Depois, tem esse ano de 1973, porque alguém lhe entrega uma caixa com documentos que ele vai revisitando.
O ciclone Idai foi determinante para escrever o livro?
O livro já estava em andamento. Quando das várias vezes que fui à cidade da Beira – eu não ia pesquisar nada, eu ia pesquisar a mim próprio, para saber o que a cidade me dizia, como é que eu casava e namorava com aquele espaço, como é que aquele espaço me rejeitava e aceitava-me – descubro que vai haver um ciclone, a viagem foi cancela, eu apanhei esse avião e fui parar a Ilha de Moçambique. No regresso da Ilha de Moçambique, o avião já aterrou. Eu lembro que o piloto do avião era meu amigo e ele disse que iria sobrevoar aquela zona. Aquilo não se distinguia do mar. Quer dizer, nós percebemos que estávamos sobre terra porque víamos árvores que emergiam naquele lençol de água. Eu chorei, sinceramente chorei – e eu nem sou uma pessoa de chorar facilmente – ao ver a cidade tão martirizada, tão vazia. Eu disse bom: a minha infância foi-se. Liquefez-se. Foi para dentro do mar. Mas depois revisitei a cidade, mais tarde, e vi uma coisa maravilhosa: os beirenses a pôr mãos à obra sem estar à espera de apoios. Esse refazer da cidade ajudou-me a mim. Aí eu disse: eu não vou abandonar esta história.
A propósito da Ilha de Moçambique, a foto da capa é de Agualusa…
Exactamente, essa foto foi tirada na Ilha de Moçambique, por ele. Quando eu fui à Ilha de Moçambique, fui ter com ele e com a mulher dele, a Yara, e ali eu estava doido parar voltar a Beira. Queria o primeiro avião que me pudesse deixar na Beira, e, quando aconteceu isso, foi terrível. Quando o avião aterrou, já não parecia um aeroporto, parecia um acampamento militar, com gente que não é do próprio “fórum do aeroporto”, chamemos assim, mas era gente especializada em socorro, salvamento e etc. Eu pensei assim: eu já não tenho mais regresso.
Tantos anos depois, o que ainda constitui escrever para si?
Normalmente, quando acabo um livro, eu penso que já me acabei e está tudo feito. Mas depois percebo que eu não tenho outra maneira, estou condenado… quer dizer, eu não sou escritor porque escrevo apenas. Eu sou escritor porque vivo assim. Vivo de uma maneira a realidade como conto história. Não sei viver de outra maneira. No dia em que eu perder essa relação de encantamento com as pessoas, em primeiro lugar, e, depois, com a vida, acho que não me vai apetecer estar mais aqui.
Terminar um livro é uma janela para começar outro?
No meu caso, eu sempre tenho alguns temas que foram sendo rejeitados, quer dizer, a minha história é como uma árvore que vou deixando arvorecer. Depois vou cortando, vou podando, e essas coisas que caem vou pegando e fazem-se pequenos contos e poemas. Não quero encarrar aquilo como sobras. Em alguns casos aquilo é o rumo de uma nova história. Mas a gente sai um bocado vazio, porque são três anos a trabalharmos e é algo muito obsessivo. Eu estou ali, vivo aquele livro, as personagens estão comigo, são minha família, dormem comigo e, de repente, vão se embora.
À beira da Beira…
A Beira tem uma gente muito particular. É muito típico de uma segunda cidade. As segundas cidades são assim, estão em confronto com a primeira cidade e ao mesmo tempo têm inveja. Mas, quando tu fazes uma coisa lá, a posição, às vezes, é de uma certa arrogância, do tipo trouxeram para cá o músico tal, mas eu não vou lá. Mas todo o ano andaram a queixar-se que não se leva o músico para lá. Há um pouco desta relação que é um bocado estranha. Mas as pessoas são muito carinhosas. No meu caso, as pessoas param, saúdam-me como filho da terra e, ao mesmo tempo, perguntam se você está a voltar para a sua terra ou vendeu-se para Maputo? É muito bonito.
O melhor prémio literário de Mia Couto…
A última vez que estive na Beira, depois do ciclone, tive talvez o melhor prémio literário da minha vida. Estava um homem muito idoso, sentado num banco, ao lado de muitas pessoas da família dele. Ele acenou-me e eu fui lá ter com ele. Tive de lhe ajudar a levantar porque disse que me queria dar um abraço – ainda se podia dar abraços naquela altura, não havia COVID. Ele explicou para os filhos, netos e bisnetos: “estou a abraçar este senhor porque quero dizer obrigado”. E olhando nos meus olhos: “obrigado por ter sido um pouco de todos nós”. Eu logo pensei que nunca tive um prémio tão… se um escritor quer ser alguma coisa, é ser os outros. Se ele consegue atingir uma pessoa, valeu apena.