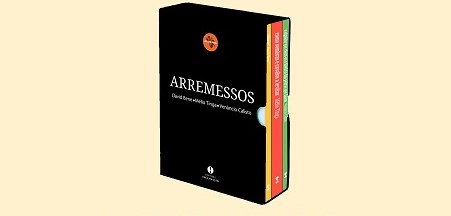David Bene, Mélio Tinga, Venâncio Calisto. Arremessos. Porto, Exclamação, 2023.
Uma das perguntas que se pode colocar ao leitor é talvez o que significa este arremesso de escritas, esta quase provocação que os três livros aqui re-unidos numa caixa desejam despertar. Três livros que se unem um mesmo corpo de papel, um projecto de três escritores e amigos, um poeta, um prosador e um dramaturgo. O que une Câncer de David Bene (poesia) a Como sombras e Cavalos a Levitar de Mélio Tinga (narrativa) e O alguidar que chora ou a história das pedras que falam de Venâncio Calisto (Teatro); em que medida dialogam estas escritas, o que nos querem “arremessar” os autores como proposta ou como reflexão?
Cada livro tem o seu registo próprio, naturalmente, mas os três partilham alguns aspectos que eu gostaria de assinalar. São escritos na primeira pessoa, tratam de alguns temas comuns a morte, a violência do facto de estar vivo, a subalternidade de ser mulher, a prostituição como forma de sobrevivência, e une-os aquilo que pode ser designado como “poeticidade”, uma relevante mistura de uma linguagem cifrada entre vários registos discursivos, que oscilam entre prosa, poesia e dimensão dramatizada.
Considerando o livro de David Bene e o de Venâncio Calisto para começar, encontro uma particular dimensão dramática e coral que os interliga, embora trabalhada de forma distinta, com um registo de recuperação de textualidade oral, também diversa.
No livro de Mélio Tinga confronto-me com uma escrita mais narrativa, com pendor autoficcional, em que o registo discursivo é ligado a uma dimensão do real, fazendo o percurso de um narrador/personagem em modo de aprendizagem, a partir do enredo de uma separação, e que reflecte sobre impossibilidade de encarar o amor sem o seu reverso de morte, ou a inocência sem a noção de decadência, numa espécie de conhecimento do que podemos designar como “ensaio sobre o inferno”, que vai ser o título da primeira parte do livro de David Bene. O livro de Mélio Tinga inicia-se retomando o epílogo final, ou vice-versa, numa reflexão sobre a morte:
Saí dali como se me escapasse do cérebro uma substância tóxica. Gases num combate contra os pulmões. Minha cabeça era um barco, cheio de carvão. Um barco a vogar no meio das ondas. Longe, os chumbos de calor destruíam os edifícios da cidade, face a face, curva a curva. Nas fachadas a expressão triste de quem reza. Meu corpo, frágil, rã escorregadia em mãos cáusticas. Dentro, os ossos se esbatiam numa bruma difusa, contraditória; o som minúsculo da flauta atormentava-me o pensamento com mestria de rato que escala a clavícula.
No ombro, o corpo quente da prostituta, débil, ensanguentada, os movimentos dos seus braços flácidos contrastavam com os repuxados nervos dos meus pés. Era o fim. A flauta silenciada sobrou de tudo quanto houve, de tudo quanto ficou destruído, de tudo quanto um dia virá, das horas de sal, do temor, da dor incómoda, da voz aos solavancos a cavalgar, a infiltrar-se pulmões adentro, a subir garganta afora.
Levo a prostituta para todo o lado, para que o mundo veja que o amor pode agarrar-se ao cu de um porco ou ao ramo de uma florzinha branca, delicada, num jardim onde cabe apenas o silêncio. Levo-a no ombro, hino que sobra quando se vence uma batalha rija. (p.17).
O livro de David Bene, Câncer, cujo título já indica uma temática de destruição, tem como citação de abertura, a letra do cantor Sean Rowe “Este mundo inteiro é uma terra estrangeira. Engolimos a lua, mas não conhecemos a nossa própria mão”, e inicia-se com o “Ensaio sobre o Inferno”, a primeira de seis partes, interligadas, perfazendo um único poema. O registo discursivo do narrador do poema é uma recuperação do livro de Eclesiastes (em latim) ou Cohellet (em hebraico), filho de David, rei de Jerusalém. O fundo sapiencial e de reflexão filosófica sobre a inutilidade da vida, a inevitabilidade da morte, e as considerações do livro sagrado, são a base da voz do narrador. A citação inicial de Eclesiastes (1:2) é o mote do desenvolvimento do poema: “ Que grande ilusão! Que grande inutilidade! Nada faz sentido!”
E quando falo de voz, falo de uma vocalidade poética sacral, uma vez que se trata da recuperação da figura do pregador, Cohellet. O narrador faz uso do monólogo, e por vezes do diálogo indirecto ou do comentário, entrecortando a dimensão sagrada da fala de um cariz profano, diria, profanatório, ou seja faz do discurso poético-narrativo-sapiencial, um lugar de discursos híbridos, que interseccionam os registos erudito e popular. Também no plano linguístico e cultural observamos esta tessitura de registos, uma vez que vai fazer uso da língua shona, a par da língua portuguesa, para compor o poema, com invocações sobre a morte, canções de embalar, cantos de acompanhamento do espírito, impregnados de diversas religiosidades.
David Bene, geólogo de profissão, oriundo de Manica, província que faz fronteira com o Zimbabwe e Tete, zona de muito minério, vai socorrer-se de um imaginário ligado à paisagem local, onde as grandes montanhas, ganham uma dimensão quase humana e conjugam em si tradições antigas. A pedras que falam resultam, penso, desse quadro imponente de Manica que atravessa o olhar, como por exemplo a antropomorfizada montanha “Cabeça do Velho” e o Monte Binga, considerado sagrado. Lendo o poema de David Bene relembramos alguns outros textos que perpassam fragmentariamente como O Escriba Acocorado de Rui Knopfli ou ainda O Deus Restante de Luís Carlos Patraquim.
Ensaio sobre o inferno
Que grande ilusão! Que grande inutilidade! Nada faz sentido!
Eclesiastes 1:2
Com quantas caras se faz um inferno?
Pergunto, minha razão. O inferno é manso. É ríspido. Gente viva. Gente morta. Carne fresca. Carne podre. Charuto cubano. Everest cigarette. Mulher coberta. Mulher nua. Maheu. Nipa. Ford Ranger. Carroça de boi. Papel limpo. Nádega. Quase nada.
Com quantas coroas se faz um inferno?
Pergunto e não procuro respostas. Responde-se para convencer. Para ganhar respeito. Para elevar a raça. A cor. A luta. Para dar sentido ao fracasso. Ao sucesso.(…)
Eu, Cohéllet.
A pedra de quatro olhos. Desconheço a diferença entre o grão de areia e o de arroz. Ambos são bem sorteados. Uns eternos, outros efêmeros. Estou equivocado, confesso. A eternidade do tempo parte e desagua na pupila de quem a procura. A pedra é tão duradoura quanto uma amiba. Uma flor. Um coito. Um rombo no aparelho sem estado.(…)
Conheci o teu deus. Apontei os teus pais com o dedo indicador. Falo-te, num bom português, através deste papel branco. Venci o tempo. O medo. Domestiquei o vento do oriente. Varre a calçada do trono que te mostrarei nos próximos tempos.
Com quantas agulhas se tricota um inferno?
Há um cadáver linguarudo na palma da criança. Tresanda a horrores, mas segue feliz. Vivo na planície de Marte e durmo no cume do Monte da Lua, disse-me o osso.
Chegados aqui, fulano, resta-me apenas dizer-te o seguinte: pega na pá e abra a tua cova. Escolha a tua rosa favorita.
Sonhar é morrer. Aprecia-se o olho que apodrece nos sovacos da tulipa.
O sonho nasce do cadáver (….) (p.15-16)
E a partir daqui fazemos a ligação ao texto dramático de Venâncio Calisto O alguidar que chora ou a história das pedras que falam, em cinco actos, que se combinam em registos discursivos diferentes, de modo quase experimental, dando voz às pedras que falam e fazendo uso de géneros orais, como a genealogia, a contação oral de Karinganas.
O poeta, actor e dramaturgo, ao procurar descrever a condição secular de silêncio das mulheres moçambicanas vai usar as fórmulas narrativas do “Era uma vez”, para dramatizar uma situação secular. No início do livro cita o poeta brasileiro Manoel de Barros: “Logo pensei de escovar palavras./ Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos”.
Quem fala nos diferentes cinco actos do texto de Venâncio Calisto são diferentes vozes e personagens, narradores, comentadores, criando ora momentos de narração, ora de monólogo, ora cenas de diálogo. As diferentes combinatórias e oscilações deste procedimento criam no leitor a expectativa e diferentes pontos de vista. Por outro lado a escrita do autor hesita entre uma fala quotidiana e uma forte dimensão poética, que ganha ora dramatismo, ora questionamento.
Podemos afirmar que o autor moderniza, fazendo recurso a formas tradicionais de contar, a condição social e humana da mulher nos diversos usos compósitos do texto dramático, com registos dialogais, de narração, de interlocução, para criar no leitor e espectador a surpresa ora das frases enigmáticas, ora dos poemas, ora das falas simples, dando vida às pedras e aos sentidos abstractos, animizando o discurso sensorialmente.
E diz o Karingana:
A pedra só é útil se estiver em silêncio.
A harmonia da humanidade depende do silêncio.
Das pedras.
Com o silêncio das pedras construiu-se o grande império do mundo: as cidades, os castelos, as calçadas, os tronos… com o silêncio das pedras ergueram-se templos.
E com o veneno das suas palavras fez-se doutrina. A inscrição da única verdade possível no corpo da humanidade. A negação da existência das outras verdades, a castração da liberdade do ser, de se ser verdades múltiplas.
Hoje, uma pedra, esta que se apresenta agora diante de vós, teve de estrangular com as próprias mãos o lugar no qual gerações inteiras foram obrigadas a calar. A calar a história das pedras que falam, a calar a sua própria existência. Repito, tive de estrangular, destruir, incinerar o lugar da subalternidade. A esteira de palha em que a minha mãe ouviu da sua mãe a mais antiga mentira da humanidade. O milenar silenciamento da história das pedras que falam.
– Estou a incinerar o cadáver da mentira que séculos a fio perpetuou o silenciamento das pedras. Estou a extrair das cinzas do seu cadáver os fonemas com os quais as pedras finalmente poderão contar a sua história. Com as cinzas do teu cadáver moldarei o alguidar de onde emergirá a voz das pedras, como o relâmpago que emerge do céu.(p.14)
Não vou concluir, vou antes convidar-vos a ler os três livros de Arremessos e a entrelaçar as diversas tessituras de escritas, que evocam os registos orais, sagrados e populares, literários e citacionais, e que “clamam”, arremessam em nós, leitores, ouvintes, questionamento e meditação poéticos sobre a violência, a morte, a fome, a opressão.
Cada um à sua maneira e com estratégias formais entrelaçadas, numa trilogia que cria ecos e ressonâncias entre si. Textos que trazem subjacente uma moralidade ou máxima possível para quem escreve: “Sonhar é morrer. O sonho nasce do cadáver”.
Ou da pedra que fala e sonha.