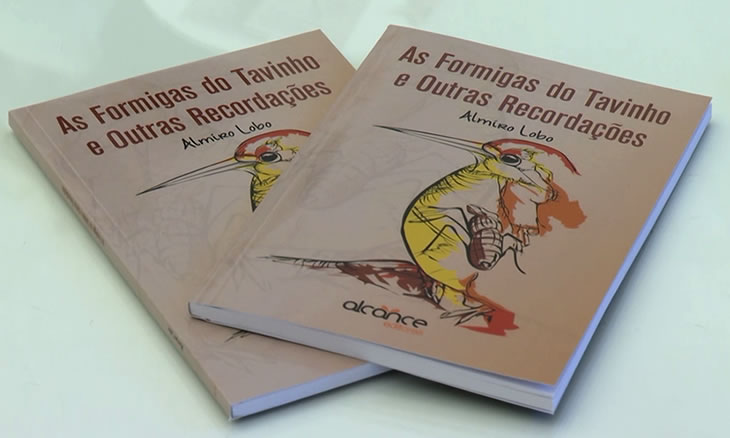As Formigas do Tavinho, segundo livro de Almiro Lobo na qualidade de ficcionista, depois de ter publicado O Berlinde com Eusébio lá dentro (2016), é um fresco para a memória. Mais adiante, tentarei explicar por que atribuo a qualidade de ficcionista ao autor, mas, por enquanto, vejam comigo, e a propósito da formiga, essa diligente, trabalhadora, persistente e incansável criatura, a associação que faço entre ela e a memória.
Entendo a memória como processo contínuo de construção e reconstrução de sentidos e destinos. Mas é interessante pensar, e isto tentarei explicar também mais adiante, que a construção ou reconstrução da memória pode ser alheia às nossas próprias vontades, qual um arrumador de missangas no fio do tempo. Pode ser que de agentes desse processo, às vezes passemos a seus pacientes. Ou seja, pode ser que a memória seja o nosso destino formigueiro. É, de resto, a delicadeza formigueira que neste livro ressalta da arrumação de cenas do passado, com base no recurso que o autor faz ao verbo afinadíssimo, lapidado – amiúde a lembrar um clássico como Nós Matámos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Honwana –, com recurso ainda ao humor, discretamente ou ironicamente construído, como afinal convém ao jogo da sedução ficcional; aliás, o humor é um expediente usado pelo autor para revestir a memória de um profundo sentido de humanidade, como podemos ver no texto «O poder da chave»:
Viajando de carro de Quelimane a Maputo, precisávamos de parar em Gorongosa para um café despertador. Ainda eram 5 horas da manhã. Os restos da noite digladiavam com o romper do dia. À entrada de um edifício com o pomposo nome de “Café Restaurante”, a conversa com um sonolento trabalhador:
‒ Queríamos tomar café ‒ dissemos, quase em uníssono.
‒ Não temos.
‒ Nós temos. Só queremos água quente ‒ continuámos.
‒ Ainda não temos.
‒ Mas pode aquecer água? ‒ insistimos.
‒ Pode. Mas vai demorar por causa da lenha: está na despensa.
‒ Não há problema. Vamos esperar ‒ éramos nós, já pensando que, depois daquele sítio, dificilmente encontraríamos outro “Café Restaurante”.
‒ O dono da chave da despensa ainda não chegou. Ouvi dizer que está doente! E vive um pouco longe daqui!
Desistimos. O poder da chave venceu-nos. E “pouco longe” em Moçambique é outra coisa… (p.49)
A minha adjectivação pomposa (“verbo afinadíssimo, lapidado”, “humor de profundo sentido de humanidade”) é a expressão do encanto que me envolveu ao ler o livro, e, quem conheça o seu autor, sabe que ele gosta de contar estórias e fá-lo bem, sem baixar a guarda à vigilância verbal e com esse sentido de humor que nos dá sempre mais um minuto de vida. É caso para dizer que, a conversar com Almiro Lobo ou a ler as suas narrativas, vale a pena perder um minuto na vida, se calhar para não perder a vida num minuto, sobretudo neste tempos pandémicos, pobres em motivos ao menos para sorrir. Enfim, como eu adivinho que muitos o conhecem, acredito, também, que esses muitos vão concordar comigo, mesmo sem terem lido ainda o livro, que o narrador destas estórias confunde-se com o seu autor.
A fusão a que me referi levanta um problema conceptual sobre as figuras do narrador e de autor, sobre o qual não me vou deter, mas que a teoria da literatura manda distinguir para, entre outras razões, não imputarmos a Almiro Lobo a prática de cenas que, de facto, se passaram com ele. A minha ironia pode ser um ataque à teoria, mas tomemos este ataque como uma hipótese. É que o tom quase confessionário destas estórias confunde-nos: este livro não é apenas um produto da ficção do seu autor, mas é também um produto da sua própria vida, o que, de resto, faz jus à segunda parte do seu título: E Outras Recordações.
É verdade que não tenho como provar a afirmação que acabo de fazer, mas tenho como agravar esta suposta provocação, dizendo, por exemplo, que, mais do que a confissão que a segunda parte do título possa revelar, é sobretudo o imaginário do passado que abraça o leitor – com as suas cenas, ideias e figuras típicas – e a atmosfera que o envolve no processo de leitura que me fazem dizer, intuitivamente, que estamos diante de um livro também cheio da própria vida do seu autor. Mas este argumento pode ser refutado, porque há quem não deposite na intuição a qualidade de argumento, uma vez que ela não nos dá elementos de prova. De resto, o que serão as recordações, senão cenas, ideias ou figuras soltas a reclamarem um sentido ordenador dado pela linguagem?
Ora, será na linguagem, no exercício ordenador de mundos a que ela se propõe e impõe, que essas peças ganharão contornos difíceis de frear pelo autor, uma vez que ele é co-substância da mesma linguagem. Então, se Almiro Lobo existe enquanto produto da linguagem (como aliás existimos todos), então ele é convocado a ficcionar: não se pode ordenar o passado sem o ficcionar, já dizia Agustina Bessa Luís numa epígrafe ao Ualalapi, de Ungulani Ba Ka Khosa.
Portanto, como que a instalar uma contradição, é mesmo pela linguagem ou pelo exercício da ficção, da imaginação, que o autor se revela, fala de si e dos outros realmente, fala do tempo, do passado, da memória realmente. Este livro convida-nos a pensar, por conseguinte, que não há contradição entre ficção e realidade ou que a fronteira entre as duas é uma linha descontínua, que nos permite ora transitar para uma faixa ora para a outra, umas vezes fazendo uma ultrapassagem estratégica à ficção, dando velocidade à realidade, outras beneficiando a ficção, dando-lhe também velocidade. Há quem poderia chamar a isto um dilema. A questão então seria: como resolvê-lo?
Nem todos os dilemas carecem de uma resolução, e se me permitem, assim saio do problema conceptual entre autor e narrador, sobre o qual havia prometido não me deter.
Alguns dilemas animam assim mesmo, porque são dilemas. E é este ânimo que me envolve. Neste envolvimento, detenho-me no ambiente construído por estas estórias, que nos chega em filigrana, como delicados quadros antigos, cinzentos, mas dourados ao detalhe. A este propósito, é flagrante perceber que, em alguns casos, mais do que contar uma estória, o que interessa ao autor ou ao narrador, enfim, a ambos, é fixar essas memórias nas paredes de hoje. Poderão reparar, então, que algumas das entidades ou referências que dão título aos contos são representadas, na estrutura ou economia da narrativa, apenas final das histórias; tal é o caso do conto que dá título ao livro: as peripécias do Tavinho, o seu protagonismo, já previsível no título, só aparece já quase ao secar do verbo. Então, essas referências funcionam, nesses casos, como pretextos para o mapeamento das memórias que ambos, autor e narrador, nos trazem. Este facto denota um falso protagonismo dessas mesmas entidades enunciadas nos títulos, pois o grande protagonista, aqui, é a memória. Neste sentido, assenta bem afirmarmos, com Levi Strauss, que não são os homens que falam através dos objectos, mas estes que falam através dos homens. Ou seja, Almiro Lobo, o responsável deste livro, é vítima do passado, está preso nele, mas é um “querer estar preso por vontade”, como diria Camões. E volto, então, à minha hipótese provocatória: resulta disto que este livro é o reflexo de uma outra narrativa, a narrativa do seu autor, um autor que sofre de passados e suas memórias, memórias que o leitor vai reclamar como sendo também suas, quer tenham a ver com o passado colonial, quer tenham a ver o passado recente do pós-independência, que aliás teima em confundir-se com o nosso presente.
Ao representar esses nossos seres, colonial e primeiro republicano, o autor sugere-nos, por um lado, um mundo polarizado entre a portugalidade e a moçambicanidade, essas outras margens da nossa vida social, cuja transição de uma a outra não se faz sem a tensão, o choque, o conflito ideológico, a violência e a gravidade de uma dor apenas amenizada pelo tom humorístico, terapêutico e reconciliador das suas estórias. Pressente-se também um investimento numa visão anti-maniqueísta desse passado, que questiona e chega mesmo a fazer implodir alguns clichés sociais. O conto “Remédio para não morrer cedo” oferece-nos um belo exemplo de fuga aos maniqueísmos estéreis. Trata-se de um texto que nos sugere a importância do estudo ou da loucura, porquanto deparámo-nos com duas classes sociais, uma escolarizada, representada por um jovem loiro do sétimo ano liceal, e outra «não escolarizada», representada pelo menino-pescador, que só fez a primeira rudimentar. Ora, este último concebia como loucos todos aqueles que estudavam muito, via no jovem loiro a personificação da loucura, por isso evocava o mito “de que estudar muito fazia mal à saúde” (p.23). O narrador-autor aproveita esta deixa para descrever o comportamento do jovem loiro, que, gostando de carros e flores, passava a vida alheio à realidade circundante.
Simbolicamente, temos no conto acima descrito a inscrição dos temas da viagem, evasão, sonho, liberdade, entre outros. Ora, seguindo o raciocínio que esboçamos há pouco, de uma visão não maniqueísta do mundo, percebe-se que autor e narrador acabam usando o motivo do carro, ou, como diria Levi Staruss, o imaginário ocidental do motivo do carro acaba usando-se de Almiro Lobo, resultando esse acto, dessa espécie de personificação, na construção da alegoria do poder da imaginação, que advém (esse poder) do facto de se ter estudado, o que se pode traduzir em quatro ideias preliminares:
- É o estudo que nos permite imaginar;
- Os que não aprenderam a imaginar, interpretam os factos imaginados dos que imaginam como loucura;
- Então, a palavra loucura pode ser apenas uma forma de rotular o incompreensível, o inacessível;
- Podemos ser todos loucos, porque já fomos um dia crianças.
De resto, a descrição que o autor faz das brincadeiras aparentemente loucas das crianças, ao longo das 78 páginas do livro, brincadeiras comuns às crianças de todo o mundo, diga-se, acaba projectando a infância como o tempo da loucura, o tempo de todas as loucuras. E então força-nos a dizer, com Erasmo de Roterdão, que a loucura pode ser a expressão da sabedoria, esta que permanece guardada nos livros que o menino-pescador se recusava a ler, mas só até ao dia em que ficou a saber que “Quem não estuda, morre cedo! Nós vamos à escola para viver muito mais tempo!” (p.24) Não será caso para dizer que a longevidade exige uma dose certa de loucura?
Se a memória é um tema estruturante das estórias de Almiro Lobo, a infância não é menos. Aliás, chega a ser por implicação que da memória do autor se chega à sua infância e vice-versa. Com efeito, é, geralmente, no tempo da infância e no seu lugar, isto é, em Mepanhira, em Luabo, em Molubo, etc., onde tudo se passa, usando-se o narrador, muitas vezes, de uma voz pessoalizada para nos aproximar das brincadeiras, suas e dos outros, em casa, nos bairros, nos campos desportivos e nas fábricas de então; para nos aproximar das trapaças da escola – em meio as alcunhas dadas aos professores e a processos educativos hoje considerados machistas e um atentado à equidade de género; para nos aproximar também de mitos, tabus, rifões desse tempo colonial e primeiro republicano.
Mas esta aproximação é, não raras vezes, feita com o tom subversivo do humor do contador de estórias que é Almiro Lobo, amiúde a lembrar-me o conto «Dois munda, quatro ganha», de Aldino Muianga. E, por falar em diálogo, este é um livro que dialoga, de forma interessante, por exemplo, com o já citado Nós Matámos o Cão Tinhoso ou com A Cidade e a Infância, de José Luandino Vieira.
Se a infância pode simbolizar o tempo colonial, o antes do nascer da República Popular de Moçambique, a juventude, neste livro, pode sugerir-nos o nascimento da Nação moçambicana. Vemos, aqui, a memória do Centro 8 de Março ou do Centro Educacional de Mepanhira, este último, local onde o autor desempenhara o ofício de professor e onde aprendera que
“na sala de aulas, o professor representava o Presidente da República. E o Presidente da República era Samora Machel, admirado como exemplo! Embora a milhares de quilómetros, era como se Samora se tivesse multiplicado. No contacto com a população, descobri que imitar Samora tinha um efeito imediato sobre as pessoas. Imberbe ainda, sobravam-me os gestos, o tom de voz e a estratégia de me mascarar com uma segurança que estava longe de sentir.” (p.38)
Trata-se, aqui, de representar o papel aglutinador que esses centros desempenharam e o seu carácter diligente no processo de formação dos continuadores da geração da utopia. Aliás, A Geração da Utopia, de Pepetela, pode entrar para a mesa dos diálogos possíveis com o livro de Lobo, pois os oitomarcistas acredita(va)m no carácter sagrado da pátria, como que a lembrar-nos, agora, a Sagrada Esperança de Agostinho Neto.
Mas se as razões até aqui apresentadas podem ser justas à ideia de que As Formigas do Tavinho e Outras Recordações é um fresco para a memória, assinale-se também o seu tom distópico em relação a essa geração da utopia, que se deixou render perante a erosão político-ideológica de uma Nação que Craveirinha disse que ainda não existia, e cujo raio x é visível em três cartas estruturantes da mentalidade do nosso funcionalismo público, cujas sínteses podem ser lidas justamente no conto que leva o título “As três cartas”:
Primeira carta: “Quando perceber que não está a conseguir resolver os problemas e fazer avançar a máquina, culpe o seu antecessor!” (p.52)
Segunda carta: “Se, depois de culpar o antecessor, ainda não tiver os resultados que pretendia, faça uma ofensiva político-organizacional!” (p.53)
Terceira carta: “Se nada resultou, o melhor é escrever as suas três cartas para quem vier a seguir!” (p.54).
E, por falar no que poderá vir a seguir, deixo os meus votos de que mais livros nos venham da lavra do escritor Almiro Lobo. Muito obrigado pela atenção dispensada e…
Parabéns ao autor!
[1] Texto de Apresentação do novo livro de Almiro Lobo, lançado no passado 24 de Novembro de 2021, no Centro Cultural Português, em Maputo.